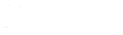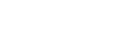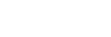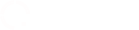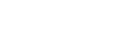Hoje, 27 de maio, é o Dia Nacional da Mata Atlântica
Por Ademar Lopes Junior
Quando Padre Anchieta pisou pela primeira vez nas areias quentes das praias do litoral paulista, em 1554, depois de uma breve passagem por Salvador, é possível que tenha sentido na alma mais que o desejo ardente de evangelizar os nativos. A exuberância da floresta que começava logo ali, no areal, e se estendia sabe Deus lá para onde, atrás da muralha natural da Serra do Mar, deve ter imprimido na alma do jovem padre de 19 anos uma mistura de sentimentos contraditórios: medo, alegria, espanto, curiosidade. Afinal, era tanto verde e tantos bichos, tudo tão bem emaranhado, em suas mais de 20 mil espécies vegetais (8 mil endêmicas), 1.020 espécies de aves (188 endêmicas), 350 espécies de peixes (133 endêmicas), 340 espécies de anfíbios (90 endêmicas), 261 espécies de mamíferos (55 endêmicas) e 197 espécies de répteis (60 endêmicas), que nenhum ser humano ficaria impassível diante de tanto esplendor. A beleza da mata deve ter tirado o fôlego do missionário.
Pobre Anchieta. Ele não sabia nada desses números nem de nenhuma outra estatística. Não sabia que, naqueles tempos, a Mata Atlântica cobria 82% das terras paulistas, e, em todo o Brasil, ela se estendia por aproximadamente 1,3 milhão de quilômetros quadrados (15% do País) ao longo de todo o litoral. O que Anchieta também não sabia é que, na Região Sudeste, essa mata exuberante se estendia aproximadamente por 100 quilômetros interior adentro e abrigava a maior diversidade de árvores do mundo, mais de 450 espécies por hectare só no sul da Bahia. Guardava também sete das nove grandes bacias hidrográficas do Brasil, incluindo os Rios São Francisco, Paraíba do Sul, Doce, Tietê, Ribeira de Iguape e Paraná. Hoje, passados cinco séculos, esse conjunto abastece mais de 110 milhões de brasileiros, em cerca de 3,4 mil municípios.
Quinhentos anos depois, a cobertura natural praticamente desapareceu do território nacional, alvo principalmente da ganância de exploradores, do progresso desordenado, do crescimento populacional caótico e, principalmente, do descaso das autoridades. Atualmente, a Mata Atlântica se encontra reduzida a 7% da área original, mas ainda pode ser considerada a maior reserva da biosfera em área de floresta do mundo, com seus 35 milhões de hectares, que cobrem os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (17 ao todo). A importância da Mata Atlântica, ainda hoje e mais do que nunca, não se limita apenas à sua beleza natural, mas também por regular o fluxo dos recursos hídricos. Além disso, ela é essencial para o controle do clima e para a estabilidade de escarpas e encostas, e, ainda, por conservar a maior biodiversidade de árvores do planeta, bem como de animais nativos (borboletas, répteis, anfíbios e aves). Nela existem, por exemplo, mais de 15 espécies de primatas. A destruição desse ecossistema põe em risco de extinção 171 espécies de animais, de um total de 202 que já se encontram na lista de ameaçadas.
Ritmo acelerado
A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgaram dados parciais do “Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica”, válidos para o período 2008 a 2010 e que indicam que “a devastação do bioma foi de quase 21 mil hectares (área equivalente à metade da cidade de Curitiba), 21% menor do que no período de 2005 a 2008, mas ainda longe do ideal, que é o desmatamento zero”. O relatório avaliou 94.912.769 hectares, revelando a atual situação de nove dos 17 estados que possuem resquícios da floresta: Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Desses, Minas Gerais foi o campeão em destruição, com 12.524 hectares (15% a mais do que no período de 2005 a 2008). O relatório constatou que as principais causas para o desmatamento no território mineiro (os cinco municípios que mais desmataram são do estado) foram “a expansão da agropecuária e a exploração do carvão vegetal para siderurgia”. Em segundo lugar ficou o Paraná, que retirou 2.699 hectares de floresta, mas melhorou sua atuação em 19%, em comparação ao período anterior. O terceiro lugar coube a Santa Catarina, que, apesar de ter eliminado 2.149 hectares, teve uma taxa de desmatamento 75% menor. O Rio Grande do Sul, apesar de estar em quarto lugar no ranking de desmatadores, aumentou a destruição do bioma em 83%, passando de 1.039 hectares/ano, de 2005 a 2008, para 1.897 hectares de 2008 a 2010.
Para o diretor de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, “os estados que eram os campeões de desmatamento, como Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, estão deixando de ser”. Para ele, a Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006), a regulamentação nos estados e o ganho na eficiência da fiscalização, além da maior atenção das ONGs ao assunto, têm contribuído para isso. Já Márica Hirota, coordenadora do Atlas pela SOS Mata Atlântica, afirma que “uma questão chave para a redução da destruição da floresta é a elaboração de planos diretores de zoneamento municipal, o que não ocorre na maior parte dos municípios brasileiros. Isso porque a região de Mata Atlântica no País abriga 112 milhões de pessoas, ou seja, 65% da população total, em 3.222 cidades. Temos que deixar de olhar para a floresta apenas como uma protetora da biodiversidade e passar a vê-la como um bem que atinge diretamente as pessoas, seja por meio dos recursos naturais, seja por meio dos serviços ambientais que presta”.
Notícias da terra
Na Região Metropolitana de Campinas, resquícios da Mata Atlântica ainda funcionam como abrigo, alimento e proteção à fauna e à flora. É uma pequena faixa, aproximadamente 2,5% da Mata Atlântica remanescente. De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais, divulgado esta semana pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo INPE, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) registrou nos últimos dois anos um aumento de 27,4% em sua área de preservação da Mata Atlântica, que um dia já cobriu toda a região.
Nos Distritos de Sousas e Joaquim Egídio, em Campinas, 60% da vegetação nativa está mantida, especialmente nos 230 hectares da Fazenda Cachoeira (a mais bem preservada), localizada em uma Área de Proteção Ambiental (APA). Já a Mata de Santa Genebra possui uma área se 252 hectares e é a maior remanescente de Mata Atlântica no município e uma das maiores florestas urbanas do Brasil.
As APAs são uma categoria das unidades de conservação que surgiram no Brasil no início dos anos 1980, por força de lei (artigo 8º da Lei Federal 6.902, de 27 de abril de 1981), juntamente com diversos outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, destinados à conservação ambiental. O objetivo principal das APAs é conservar a diversidade de ambientes, de espécies e de processos naturais, pela adequação das atividades humanas às características ambientais da área, seus potenciais e limitações. As Áreas de Proteção Ambiental podem incluir terras de propriedade privada, não exigindo, portanto, a desapropriação de terras.
Como se faz uma floresta
Preocupado com o abastecimento de água na cidade do Rio Janeiro, capital do País à época, o imperador Dom Pedro II, ainda no século XIX, ousou pensar numa “missão quase impossível”: recuperar a Floresta da Tijuca. Devastada desde 1760, principalmente pelas fazendas de café, que ocuparam inicialmente a Serra da Carioca e depois ganharam a Floresta da Tijuca, a região foi aos poucos perdendo toda sua cobertura natural de Mata Atlântica. Na época do Segundo Reinado, o abastecimento de água na capital estava crítico, e apenas o espírito visionário, aliado ao empreendedorismo, de Dom Pedro II poderia salvar a cidade de um colapso.
O primeiro passo foi a desapropriação das fazendas devastadas pelas plantações, e, num segundo momento, iniciou-se o reflorestamento. A missão foi confiada ao major da Polícia Militar Manuel Archer, que iniciou o trabalho com seis escravos. O plantio se estendeu de 1861 a 1874. Foram plantadas 100 mil mudas nesses 13 anos, principalmente de espécies nativas da Mata Atlântica. O processo transformou o local naquela que já foi a maior floresta urbana do mundo (3.972 hectares) e que hoje faz parte do Parque Nacional da Tijuca. Atualmente, a maior floresta urbana do País é a Floresta do Pico da Pedra Branca, também na cidade do Rio de Janeiro, com 12.500 hectares de mata atlântica.
Num terceiro momento, o substituto do Major Archer, o Barão d’Escragnolle, empreendeu um trabalho de paisagismo, com a ajuda do paisagista Augusto Glazius, que traçou os caminhos e demarcou recantos, transformando a floresta em um belo parque para uso público, com áreas de lazer, fontes e lagos.
Enquanto isso, em São Paulo, as matas ciliares...
O engenheiro florestal Fernando Bechara, paulistano de 30 anos, percebeu há algum tempo que, para a recuperação das matas ciliares, não basta plantar árvores. Para se recuperar, de verdade, o que o homem destruiu sem nenhum critério, o engenheiro florestal criou um caminho inovador, porém mais eficaz e, também, 30% mais barato do que as técnicas até então praticadas.
Iniciado em Capão Bonito há dois anos, o método desenvolvido pelo engenheiro faz a flora ressurgir em pequenos núcleos, irradiar-se e cobrir toda a área. No primeiro ano, desenvolveram-se 148 espécies vegetais, e surgiram 35 de aves. Dentro de mais quatro anos, Bechara acredita que terá uma floresta formada, “com árvores crescidas e fauna, incluindo paca e tatu”. A técnica foi desenvolvida com o professor Ademir Reis, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde Bechara fez seu mestrado. Com ela, defendeu tese de doutorado na Escola Agrícola Luiz de Queiroz (Esalq), da USP.
A área piloto foi cedida pela Votorantim Celulose e Papel, a maior exportadora de celulose do País e um dos clientes da empresa em que Bechara trabalha, a Casa da Floresta, de Piracicaba. Esta empresa já começa a mesclar as técnicas do engenheiro em seus projetos de reflorestamento. A Votorantim quer aplicar o novo método em 20% de suas áreas que precisam de recuperação.
Fernando Bechara desenvolveu, com sua técnica, um novo olhar sobre o reflorestamento. Para ele, o morcego que come sementes de uma determinada árvore é tão importante quanto a própria árvore, pois um não sobrevive sem o outro. E por isso o seu trabalho tem sido considerado de artista: “o de restaurar as florestas, e não apenas recuperá-las”.
Seu horizonte, no momento, é o interior paulista, onde vem ocorrendo um fenômeno interessante: na contramão do desmatamento crônico no Brasil, em São Paulo a área de cobertura florestal está crescendo. Nos últimos dez anos, a floresta, a capoeira (vegetação rasteira) e outros tipos de cobertura cresceram quase 130 mil hectares. Isso representa 3,8% dos 3,3 milhões de hectares que haviam restado no estado, depois de cinco séculos de devastação.
É verdade que a volta do verde paulista tem razões específicas, e isso depende do grupo que a promove. Os fabricantes de papel e celulose, bem como as usinas de açúcar e álcool, com seus canaviais, estão entre as empresas que querem conquistar o selo verde, a certificação que, cada vez mais, abre portas no País e no exterior, garantindo que a origem do produto não desrespeitou a legislação ambiental. Uma das exigências da lei é que, em áreas passíveis de desmatamento, sejam mantidos pelo menos 20% da vegetação nativa. Ela deve ser preservada, também, às margens dos rios (mata ciliar). Quem desmatou tem que trazer a mata de volta. E é aí que entra a técnica de Bechara.
Nos passos de um lendário plantador de macieiras
Impossível não fazer o paralelo. A prática de Fernando Bechara remete ao lendário norte-americano John Chapman, mais conhecido como Johnny Appleseed (Joãozinho Semente de Maçã), que viveu nos Estados Unidos entre 1774 e 1845. Tornou-se lenda ainda em vida, e permanece na memória dos norte-americanos ainda nos dias atuais. Estátuas, filmes, livros e lendas mantêm viva a figura do homem que saiu descalço pelo “mundo”, com um saco de sementes de maçã na cabeça, plantando sem parar. O mundo de João Semente de Maçã se resumiu a boa parte dos Estados de Ohio, Indiana e Illinois. Também foi conhecido como pregador da doutrina de Emanuel Swedenborg e por ter criado inúmeras creches. De qualquer forma, sua generosidade foi a marca que o distinguiu melhor.
Talvez a generosidade, aliada a um espírito empreendedor e visionário, seja a única característica possível ao homem do século XXI para a salvação do planeta. Bechara entende bem isso. Seu trabalho é mais amplo que os limites da lei. Ao contrário das empresas “plantadoras de árvores”, o que resulta em bosques vazios com árvores altas e grossas, Bechara “restaura” a área devastada. Em sua área piloto de um hectare (10 mil metros quadrados), em Capão Bonito, 237 quilômetros ao sul da capital, ele está criando uma floresta o mais próximo possível da original. Mas ele garante que não é o homem quem consegue isso, e sim a própria natureza, com sua complexa rede de ligações alimentares, de reprodução e de abrigo, envolvendo a fauna e a flora.
Bechara salienta que “nas florestas tropicais, como as brasileiras, as árvores representam 25% das formas de vida. Os outros 75% são constituídos por arbustos, ervas, cipós, bromélias, epífitas (que ficam sobre as árvores) e outras espécies”. Fernando recria a sucessão natural: primeiro, as ervas e os cipós, organismos pequenos e pouco exigentes, que preparam o ambiente; depois, os arbustos e as pequenas árvores; a seguir, as maiores. Pássaros, morcegos, abelhas, vespas e borboletas contribuem com sementes trazidas de outros lugares. Entre os pássaros, os mais assíduos são o bem-te-vi e o sabiá. O engenheiro também cria, em pequenas porções de um metro quadrado e 10 centímetros de profundidade, bancos de sementes de ervas e arbustos e de microfauna (minhocas e fungos). Assentadas nos núcleos, brotam em três meses. Formam uma cobertura que se irradia para além dos núcleos. Também são feitos poleiros para os “plantadores da natureza” – as aves. Para abrigar morcegos, é erguida uma torre de cipó. A copa e tocos de eucalipto são empilhados e se decompõem. Viram abrigo para besouros, lagartos e ratos. Atrás dos ratos vêm as cobras.
Para o surgimento das árvores, Fernando não conta só com pássaros e morcegos. Ele instala, em florestas preservadas, coletores de sementes. São malhas que recebem sementes caídas das árvores. Com elas, produz, em viveiro, mudas para serem plantadas. Durante todo o ano há árvores frutificando. Isso é importante para manter a fauna. (Com informações dos sites jornalocal.com.br, apacampinas.cnpm.embrapa.br, planetasustentavel.abril.com.br, sosma.org.br, inpe.br, uniagua.org.br, ppma-br.org, marcillio.com e wikipedia.org)
- 37 visualizações